2020 | 10min | HD | Color
No curta três movimentos (canonização/ritournelle/iconoclastia), vemos a ascensão da imagem como codificação do mundo, o retorno a uma função mnemônica e a necessidade de destruição da imagem-mundo para dar lugar ao novo. Afinal, o que vemos além da imagem?


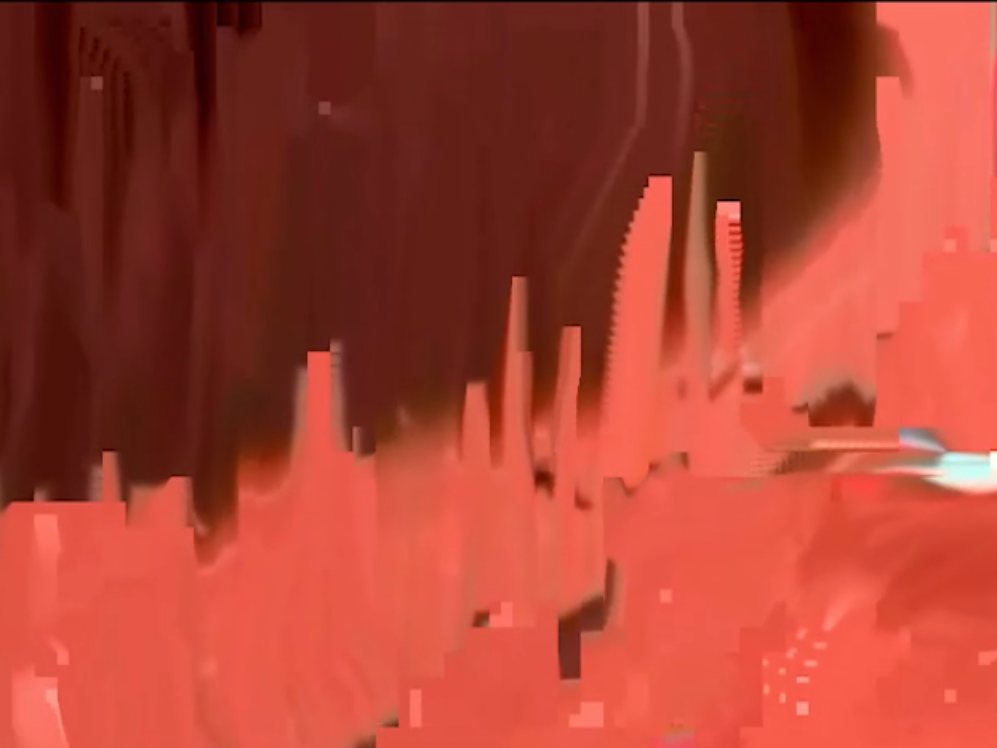

FESTIVAIS
Festival del Cinema di Cefalù – 2021
Lift-Off Berlin: First-time filmmaker sessions – 2021
REFLEXÕES SOBRE O FILME
Comecei a pensar no meu curta [Três movimentos] em 2017, quando morava em Roanne, cidade no interior da França. Era um momento muito delicado da minha vida em que estava um tanto quanto perdido na monografia de mestrado, no sentido que a vida estava começando a tomar e na distância de todos que eu amava. A vida acabou por me levar a um isolamento em que não conhecia ninguém na cidade em que morava. Estava lá a trabalho. A sorte é que foi um dos trabalhos mais importantes da minha vida.
Na época estava lendo O Anti-Édipo (1972), de Deleuze e Guatarri e muito influenciado com todas as ideias que apareciam pela primeira vez para mim. O que eram essas tais máquinas desejantes? Tudo era realmente fluxo? A psicanálise precisava ser revista? Como era possível entender o mundo a partir dessas novas ideias? A esquizofrenia é realmente uma condição natural nossa? Somos todos divididos em diversas personas? Nunca haverá a possibilidade de unicidade? Com essas proposições, reflexões e muitas dúvidas, me propus a pensar sobre isso através das imagens. Peguei então a minha câmera e sai pela cidade captando o que seria aleatório, o que seria o fluxo do meu corpo desejante de entender essas dinâmicas frente a essa situação em que me encontrava. Quais eram os desejos que passavam por mim? Quais eram as imagens que meu corpo conseguia captar além dos meus olhos? A máquina desejante pode se acoplar a uma outra máquina para ressignificar a existência? Talvez não seja ressignificar; no meu caso era muito mais compreender. A ressignificação, na verdade, veio muito tempo depois.

Partindo dessa ideia saí pelas ruas a filmar o que podia, o que os meus olhos não viam, mas o que meu peito conseguia captar. A câmera seguiu boa parte do seu percurso solta, presa apenas em meu pescoço a balançar no meu arcabouço e a captar tudo o que conseguia e o que queria. Em alguns momentos eu intervinha e captava aquilo que eu queria. Era uma troca entre mim e a câmera. Éramos os mesmos?
Havia também outro fator. A memória da câmera, aquela que registra tudo e salva tudo dentro de si, estava corrompida, então só era possível captar imagens de poucos segundos. Não me lembro exatamente, mas era algo em torno de 10 a 20 segundos. Variava. Algumas vezes ela chegou a captar minutos. Porém, isso facilitou a montagem futura dessas imagens. Já que tudo estava praticamente cortado em frames prontos para serem encaixados de maneira aleatória, respeitando a proposição do fluxo deleuziano e guattariano. Se tudo é fluxo, tudo deveria ser feito com a proposta de circular e nunca parar. Esse era o primeiro curta-metragem que eu queria realizar com essas imagens.
Porém, tudo mudou. Não tudo, mas a ideia do fluxo acabou sendo deixada em segundo plano para entrar uma nova questão.
Em 2020 enfrentamos o momento mais crítico enquanto sociedade desde que nasci: a pandemia do novo coronavírus. Mas a história desse novo curta começa um pouco antes.
Cheguei em Montréal no final de 2018 para dar início a um doutorado em cinema. Doutoramentos nos abrem diversas portas para novas informações e, principalmente, a novas proposições sobre a dinâmica do mundo. Como pesquiso cinema, acabei entrando em contato com filosofias dessa arte e pude, então, pensar diferentes aspectos da imagem. Entretanto, comecei a perceber que havia um excesso. Excesso de tudo. De filmes a assistir, de livros a ler, de teóricos a descobrir, de conversas, de estreias, de plataformas etc etc. Foi o momento em que entendi que realmente não sabia nada de nada. Não sabia pois tudo o que pensamos é imediatamente diferente ao que o outro pensa, ou seja, tudo que penso é diferente de tudo que já foi pensado, de tudo que é pensado e de tudo que será pensado. Apesar da vida ser uma eterna cópia, a cópia nunca é exata, nas palvras de Gertrude Stein: “A rose is a rose is a rose”.


Assim como cada indivíduo é diferente entre si, cada ideia também o é. Ideias essas que muitas vezes podem se assemelhar ou se construir a partir de suportes ideológicos próximos, mas nem por isso serão ideias idênticas. O doutorado exige esse suporte para que sua hipótese seja corroborada por uma determinada elite intelectual que crê ter o poder de ideias. E até tem, mas não há circulação, infelizmente. As ideias discutidas na Universidade são extremamente importantes, porém ficam hermeticamente fechadas em discursos complexos que realmente servem a nutrir o ego dessa pequena elite e pouco se extrapola de lá para o cá.
Nesse processo todo fui me nutrindo de diferentes ideias e começando a repensar essas imagens de Roanne, que sempre estiveram em minha memória. Tanto a psíquica quanto a física, ou seja, a do computador. Revisitei-as em um momento muito particular, um momento em que estava começando a questionar toda essa necessidade de produção que nosso mundo vive tão intensamente. É realmente necessário termos tantos produtos audiovisuais à disposição o tempo todo? A minha percepção para essa questão é sempre dúbia. Acho que é importante termos tudo isso, ao mesmo tempo que acho que criamos conteúdos irrelevantes e os fazemos apenas pensando em dinheiro, sucesso ou qualquer coisa que um coach possa dizer. Ou seja, acabamos entrando na grande crítica da indústria cultural. Como disse Jodorowsky em sua autobiografia, a arte deveria servir para ajudar a curar as pessoas. Ainda não sei dizer exatamente o que seria melhor. Talvez seja o meu lado de elite intelectual que diz que alguns filmes e séries não deveriam existir. Por outro lado, a arte que nos serve de entretenimento nos faz esquecer do vazio que é existir. Mas será que deveríamos mesmo esquecer o vazio da existência? Será que a arte deveria se submeter à lógica do entretenimento? Enfim, não acho que essas sejam perguntas que tenham uma resposta certa, afinal eu também crio produtos audiovisuais e estou inserido nessa lógica.
Porém, foram essas mesmas questões que me fizeram refletir: o cinema seria a última possibilidade da imagem? O que existe além da imagem? Existe algo depois da imagem? Estamos submetidos à lógica da imagem e para todos os lados que olhamos ela está lá, nos aferindo uma verdade violenta sem que possamos desviar nosso olhar. A imagem nos afeta e se embrenha em nosso subconsciente de maneiras que ainda não sabemos como evitar, nem sabemos as consequências disso. Ou talvez eu ainda não saiba. Rudolf Arnheim explica que para os impressionistas a “imagem pictural é um produto do espírito ao invés de uma espécie de precipitado do objeto material”. Ou seja, a imagem que vemos é a produção daquilo que sentimos em relação a ela. Não é à toa que comecei a me preocupar com tudo o que me cercava. Nessa ditadura da imagem que nos força a amar fotos diariamente e a rolar nossos feeds em busca de mais e mais imagens, há algo que não estamos percebendo.
Logo, como disse, eu estava interessado em pensar o que pode haver além disso que chamamos imagem. Será possível descontruir isso e pensar algo que seja diferente?
Resolvi então rever as imagens que havia feito em Roanne.
De início, me surpreendi com o que estava vendo. É verdade que fazia bastante tempo que não entrava em contato com as elas. Tinha me esquecido completamente do tom azulado que elas tinham. Não sei como captei essas imagens em tal tom. Não sei se foi um desejo do meu espírito, o desejo de retratar a melancolia que me afligia aquele solitário e frio interior da França; ou se foi alguma alteração que fiz de abertura do diafragma da câmera sem querer. O que importa é que o azulado me trouxe imediatamente uma sensação prazerosa daquelas que a gente descobre quando retoma algo feito no passado de onde vem o sentimento de isso-é-muito-bom.
Em seguida a questão da destruição da imagem me aguçava as ideias. Como poderia retratar isso de maneira que fosse possível perceber a validade que as imagens chegaram em nossa sociedade? Lembrei-me então de três artigos que havia lido durante um curso na Université de Montréal: “In defense of poor image” de Hito Steyerl; “Glitched Media as found/transformed footage: Post-digitality in Takeshi Murata’s Monster Movie” de Michael Betancourt e “Les ruines: um essai d’esthétique” de Georg Simmel. Pensei, então, que a destruição da imagem deveria ser feita de maneira a construir algo novo. Ou seja, entender as imagens feitas e ultrapassá-las. Optei então pela ideia do glitch que comporta justamente o questionamento da qualidade da imagem, como aponta Steyerl.
Então chegou o vírus que mudaria a forma como eu encararia a vida. Tudo estava suspenso. Todos os desejos estavam em plena modificação e a partir de março eu já não sabia direito quem eu era e o que eu queria. Só havia em mim a eterna vontade de fazer filmes. Resolvi levar a proposição do meu novo curta a fundo.
Parti para a ressignificação desse primeiro curta que havia pensado, o do fluxo. Propus então três movimentos que se tornaram capítulos do curta: 1. Canonização; 2. Ritournelle e 3. Iconoclastia. No primeiro, seria a constituição de que “uma imagem vale mais que mil palavras”, algo tão errôneo em nossa sociedade que nem paramos para entender que uma imagem e uma palavra nos trazem sensações distintas. O segundo, a ritournelle, é um conceito bastante complexo de Deleuze e Guattari em que, grosso modo, tudo se repete, mas de maneiras diferentes. A imagem seria o processo warholniano e benjamiano da reprodução contínua da mesma ideia, em diferentes formas. E então, o terceiro movimento, minha proposição inspirada nos movimentos iconoclastas dos séculos VIII e IX da destruição da imagem religiosa. Porém, neste caso, a destruição da imagem em si viria para construir algo novo.
Mesmo que esse novo seja ainda completamente inimaginável por mim, eu estava me propondo pensar na possibilidade de haver qualquer coisa que esteja nesse pós–imagem que tanto me angustia. O curta deixa apenas os questionamentos no ar e a possibilidade de refletir sobre a situação do cinema e da imagem no século XXI. A fatiga imensa pelas diversas imagens que nos povoam, sejam elas fotográficas, sejam elas subjetivas, sejam elas abstratas ou sejam as imagens que habitam nossa mente quando fechamos os olhos.
Afinal, o que há para além dessas imagens que (ainda) não estamos vendo?